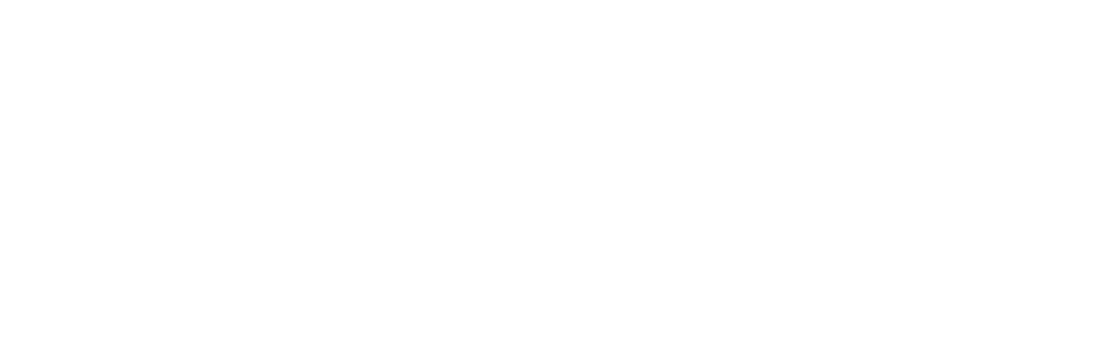É preciso internacionalizar os clubes protagonistas e entrar, enquanto é tempo, neste mercado ao norte do Hemisfério, para exportar o espetáculo
11 de outubro de 2015
“Na zona agrícola, tamanho foi sempre o descuido por outras lavouras, exceto a da cana-de-açúcar ou do tabaco, que a Bahia, com todo o seu fasto, chegou no sec. XVIII a sofrer de ‘extraordinária falta de farinhas.’” – (Gilberto Freyre)
A nossa formação econômica forjou-se em ciclos de exportação de produtos primários, com a renda concentrada nos proprietários (no açúcar 10%, apenas, eram pagos em serviços e bens locais ), transferidos os saldos para a Europa, principalmente via importações.
Depois do pau-brasil, nos tornamos o maior produtor de açúcar nos séculos XVI e XVII, mas, com o Pacto Colonial, o Brasil só podia comercializar com Lisboa. O ouro brasileiro, defendem a tese alguns historiadores, permitiu à Inglaterra, via Portugal, acumular reservas que auxiliaram o financiamento da Revolução Industrial
O café chegou ao Brasil, na segunda década do século XVIII. Belém e Manaus eram, entretanto, as cidades mais prósperas do mundo entre 1890 e 1920. Já usavam luz elétrica, água encanada, esgoto, bonde elétrico, e os manauaras, à noite, frequentavam o Teatro Amazonas. A renda per capita da capital amazonense era duas vezes superior à da região produtora de café.
A libra esterlina era a moeda das duas capitais do comércio da borracha.
A Madeira-Mamoré, em 1912, chega tarde. Os seringais ingleses na Malásia, no Ceilão e na África, com sementes da Amazônia, já produziam látex com maior produtividade.
O futebol — diferentemente da borracha, e como o café, originário da Etiópia — não é nativo. Chegou com os ingleses em 1895, como esporte aristocrático, até ganhar as várzeas e maior popularidade, quando os negros foram aceitos, depois de 1920. Massificou-se até se tornar a maior paixão nacional.
Desde o Diamante Negro e Domingos da Guia, em 1938, passando por Zizinho, Jair, Pelé, Garrinha, Didi, Gerson, Tostão, Zico, Sócrates, Romário, Ronaldo etc., exercemos uma hegemonia do “espetáculo futebol”, interrompida por uma, eventual, Hungria de Puskas, uma Holanda de Cruyff, uma Argentina de Maradona.
Como as mudas de seringueira levadas para a Ásia e a África, nossos melhores e jovens talentos vão florescer nos gramados da Europa. E nossa seleção que, nos bons tempos, não aceitava jogadores de clubes fora do Brasil, hoje, convoca dois ou três locais entre 24 integrantes.
A Copa do Mundo e a Copa América nos mostraram a que levou o modelo de prevalência dos interesses das entidades de organização por sobre os clubes, as células-base do futebol, seus calendários, excursões, datas Fifa, rendas etc.
Hoje apenas a CBF é capaz de alavancar receitas internacionais expressivas, mas a conta desta estratégia começa a ser paga dentro do campo, com tons dramáticos e acachapantes.
Agora, há um fato novo, a chegada dos EUA, com tudo, ao futebol masculino. Já lideram o feminino e fazem nele o papel que já fizemos no masculino — vide a audiência da Copa, que superou a NBA e o beisebol.
Os clubes começam a pensar a Champions das Américas, interclubes, integrando nossos mercados com este, onde o Super Bowl, um só jogo, movimenta 425 milhões de dólares.
É preciso internacionalizar os clubes protagonistas e entrar, enquanto é tempo, neste mercado ao norte do Hemisfério, para exportar o espetáculo, não mais nossa matéria-prima, o jovem “pé de obra”.
Sim, vamos “botar azeitona na empada…”, mas na empada do Brasil.